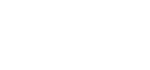Por Daniel Pinheiro Pereira
Vivemos atualmente a chamada sociedade da informação e a internet representa papel de destaque a ponto de ser elencada no rol de direitos e garantias fundamentais, conforme objeto da Proposta de Emenda Constitucional no 47/2021. A garantia de acesso à internet passa a figurar no famigerado artigo 5º da Constituição Federal, alcançando o mesmo patamar dos direitos à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade.
A evolução desse fenômeno tecnológico passou por fases que distinguem entre si de acordo com a menor ou a maior interação e colaboração dos usuários. Esses diferentes estágios foram nomeados como: a Web 1.0, a Web 2.0 (atual estágio) e, aquela que parecia ser próxima fase da internet, a chamada Web 3.0.
O surgimento da internet comercial se deu em meados dos anos 90. A primeira etapa, chamada de Web 1.0, ficou marcada pela existência de sites estáticos e portais de grandes empresas de mídia e comunicação. Não havia colaboração dos usuários na produção dos conteúdos, que figuravam como meros consumidores de informações orientadas pelas linhas editoriais dos poucos veículos que detinham os meios de publicação.
A segunda geração da internet surgiu por volta de 2004 e é a que melhor representa o atual estágio. Se dá com o aparecimento das redes sociais como Orkut e, posteriormente, o Facebook, o Youtube e demais plataformas. Essa fase é chamada Web 2.0 e se caracteriza pela interatividade. O usuário deixa a posição
de expectador passivo e passa a ter voz ativa, gerando conteúdo por meio de fotos, vídeos, blogs pessoais. O compartilhamento maciço e descentralizado de conteúdos faz com que a informação seja consumida de forma diferente, acarretando enfraquecimento dos canais tradicionais da mídia, como televisão e jornais.
Rapidamente, o número de usuários e dispositivos conectados à rede aumentou de forma exponencial. A produção de conteúdo massiva e descentralizada também permitiu a captação, pelos provedores, de um volume sem precedentes de dados dos usuários, tais como nome, localização, contato, preferências, dentre outros. Toda essa informação acaba armazenada nos servidores das plataformas, que conseguem promover perfilamentos preditivos e de personas.
Essa nova realidade fez crescer a preocupação com a privacidade das pessoas e o domínio de informações centralizadas em poucas empresas de tecnologia, dando vez ao surgimento do conceito de Web 3.0, tratado como a internet do futuro. Essa terceira onda reúne as atuais funcionalidades de
interatividade da internet, sendo que a principal diferença, em relação ao que temos nos dias atuais, consiste na alteração da própria estrutura da rede de computadores.
Com funcionamento baseado na tecnologia blockchain, o conceito de Web 3.0 traz como destaque maior a descentralização em relação à estrutura da atual internet, pois o conteúdo não fica hospedado em bancos de dados e servidores de um ou outro provedor, mas sim espalhado pelos milhares de dispositivos que compõem a rede, conectados ao redor do mundo. Isso resulta num menor controle
e moderação, pelas empresas provedoras, sobre os conteúdos e os dados dos usuários.
Assim, a maior liberdade de navegação, a maior privacidade e um exclusivo controle dos usuários sobre seu próprio conteúdo parecia ser o próximo estágio da rede mundial de computadores, muito celebrada pelos entusiastas de tecnologia, com a promessa de descentralização da Web 3.0. Por outro lado, esse entusiasmo em relação à próxima etapa começou a ser arrefecido quando apresentado o texto
final do Projeto de Lei no 2630/2020, apelidado de PL das Fake News.
Referido projeto de lei se aplica às redes sociais, às ferramentas de busca e aos serviços de mensageria instantânea que possuam número médio de usuários no país acima de 10 milhões.
Dentre outros pontos de atenção, positivos e negativos, constantes em seu texto, o PL 2630/2020 trata sobre tema louvável, mas extremamente desafiador, que é a implantação do regime de responsabilidade solidária das plataformas, pelo conteúdo produzido pelos seus usuários. Com isso, os provedores passariam a ter o dever de cuidado e de atuação diligente para prevenir divulgação e circulação de
conteúdos que contenham determinadas condutas ilícitas, dentre elas: atos de terrorismo, crimes contra crianças e adolescentes, racismo e violência contra a mulher.
Em relação a esses temas sensíveis, bastante claros e objetivos, o projeto parece não encontrar muita resistência, afinal, não há liberdade de expressão que justifique a defesa desses crimes. Porém, o texto encontra fortes divergências na parte considerada como “zona cinzenta” devido a interpretações diversas que podem ser emprestadas a determinados tipos de conteúdo e conduta.
É o caso, por exemplo, da classificação de conteúdos como ilícitos que configurem atos atentatórios contra o Estado Democrático de Direito. Esse tipo de assunto, por vezes, pode não aparentar um ilícito tão claro, objetivo e evidente como outros atos. A tipificação como conduta ilícita para essas situações pode conter elementos e conceitos subjetivos.
Essa é a preocupação de parte da sociedade que entende existir o risco de uma espécie de censura prévia aplicada automaticamente pelas plataformas que optariam por remover conteúdos, por vezes lícitos e legítimos, como forma de cautela para evitar o risco de sofrer sanções. Nessa ótica tecnológica, em vez da caminhada ser no sentido daquele futuro vislumbrado com o conceito Web 3.0, estaríamos marchando para um modelo de “Web 1.5”, onde permaneceriam existindo todas as funcionalidades da atual Web 2.0, porém, moderadas pelo receio das plataformas em serem punidas.
Em vigor desde 2014, o Marco Civil da Internet estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no país. Evidentemente que o avanço da tecnologia é muito mais veloz do que um processo legislativo e, nesse descompasso, podem existir eventuais necessidades de ajustes, o que não
significa que o Brasil seja “terra sem lei”.
No momento em que este material é redigido, ainda está em vigor o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que prevê um regime de responsabilidade subsidiária dos provedores sobre os conteúdos gerados pelos usuários. Conforme o texto legal vigente, haveria responsabilização das plataformas apenas se deixassem de cumprir ordem judicial específica, conforme a seguinte transcrição:
Art. 19. Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a
censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser
responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado
por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências
para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo
assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente,
ressalvadas as disposições legais em contrário.
A redação é de fácil compreensão e determina que quem decide sobre a licitude ou ilicitude de determinado conteúdo é o judiciário, que obviamente, avalia todo o contexto envolvido no fato ocorrido. Não cabe ao poder Executivo ou a plataforma esta função. Essa aparente inversão de papéis é outro dos receios daqueles que posicionam contra a proposta do PL 2630/20, ao impor o regime de responsabilidade solidária e as consequências práticas indesejadas que podem surgir disso.
O tema é áspero e a discussão surge em momento de polarização política, o que acirra o debate e os argumentos. O Brasil possui legislação que regula a internet e, naturalmente, pode conter pontos omissos ou defasados, merecedores de certos ajustes não previstos no Marco Civil da Internet, em especial na
implantação de ferramentas que tragam maior transparência pelos provedores, que tornem mais velozes e ágeis a indisponibilização de conteúdos ilícitos e que facilitem a identificação dos verdadeiros responsáveis.
No entanto, a atualização legislativa não pode representar um passo atrás (“Web 1.5”) e deve ser cuidadosamente calibrada para evitar pontos que coloquem o Brasil, dentro de um contexto mundial, em um grupo de países que são pouco amistosos em relação à inovação, à tecnologia e aos direitos fundamentais da sociedade.
Fonte: Escritório Aliado Lippert Advogados